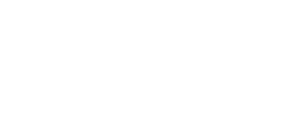As primeiras vezes que fui a Vigo era criança. Parte das férias de verão em família eram passadas nesta cidade galega, que, na altura, me parecia tão chuvosa e cinzenta como o Porto, mas mais monumental, com “Os Cavalos”, de Juan Oliveira, escultura em que vários cavalos parecem cavalgar em espiral até ao céu, a provocar-me impressão e espanto pela grandiosidade do conjunto. Também os edifícios e as avenidas me pareciam enormes, como só tinha visto em Lisboa.
Nos dias soalheiros, íamos até à praia de Samil e lembro-me de uma vez termos visitado uma ilha, não sei se alguma das Cíes, onde pedi aos meus pais que me comprassem um colar feito de pequenas conchas e búzios, que usei durante muito tempo. Não esqueço também que quando o meu pai se perdia nos nossos passeios de carro pelas terras à volta de Vigo e ia perguntar indicações, voltava a dizer qualquer coisa como “tentei falar em espanhol, mas eles aqui eles preferem que se fale em português!”. Terá sido a primeira vez que tive contacto com esta irmandade linguística. Passei vários anos sem voltar a esta cidade, regressando já em adulta, visitando amigos que entretanto ganhei e aprendendo a gostar da Vigo mais moderna, com um centro histórico repleto de esplanadas, onde volta de meia se escuta Zeca Afonso num bar ou restaurante e onde os portugueses são recebidos como alguém querido da família que não se vê há muito tempo.
Foi este o meu primeiro destino fora de Portugal, no pós-confinamento. E que falta me fazia o azul carregado da Ria, as conversas sobre a língua galega e a sua lusofonia. E fiz uma descoberta que não me vai largar tão cedo. Percorrendo as estantes de livros dos meus amigos, senti uma certa vergonha. Os escritores galegos são para mim quase desconhecidos. Peguei num livro que me fez companhia durante esses dias: “De Catro a Catro”, um pequeno poemário de Manuel António, poeta-marinheiro galego vanguardista, contemporâneo de Pessoa. E falo de Pessoa porque alguns dos poemas me remetem para Álvaro de Campos, mas sem os seus exageros maquinais nem a celebração hedonista. Manuel António, ao contrário de Pessoa, viajou mesmo na sua curta vida de 30 anos.
E escreveu os seus poemas enquanto navegava. As imagens náuticas falam de solidão e da impossibilidade de se chegar a um destino: “Atopamos esta madrugada / na gaiola do Mar / unha ilha perdida // Armaremos de novo a gaiola / Vai sair o Sol / improvisado e desourentado // Xa temos tantas estrelas / e tantas lúas sumisas / que non cabem no barco nin na noite // Xuntaremos paxaros sin xeografia pra xogar cas distanzas / das súas áas aplexadoras // E os adeuses das nubes / mudos e irremediabes / E armaremos unha rede de ronseis / para recobrar as saudades / coa súa viaxe feita / polos océanos do noso corazón” (“Os cóbados [cotovelos] no varandal”). E parece ser esta ilha perdida onde se chega só para partir de que estamos sempre à procura.